


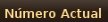











 Para uma nova compreensão
da vida em Wittgenstein e Nietzsche
Para uma nova compreensão
da vida em Wittgenstein e NietzscheSeria forçosa uma aproximação entre Nietzsche e Wittgenstein, a aproximação entre os dois nomes mesmo causando-nos uma espécie de estranhamento, nos leva a uma questão: em que um filósofo analítico se aproximaria de Nietzsche mesmo pertencendo a tradições filosóficas distintas? O nosso escopo aqui não é outro senão o de mostrar que, embora Wittgenstein não tenha lido as obras de Nietzsche, existe um ponto que se torna o caminho para o entendimento dos contextos filosóficos dos referidos autores: a preocupação com a linguagem. No caso de Wittgenstein, a linguagem como disposta nas Investigações Filosóficas “tornando Wittgenstein um tipo de ‘herdeiro’ obviamente não diretamente de Nietzsche, mas, em diversos aspectos, da crítica à metafísica”.1 Quanto à questão Nietzschiana, principalmente nas obras do seu período intermediário2, especificamente em Humano, demasiado humano, onde o autor desenvolve seu projeto de crítica à filosofia (metafísica), à religião (cristã) e à arte (romântica), há um intento de por fim à “necessidade metafísica (HH, 5)3 usando a estratégia científica que é analisar as coisas humanas a partir das próprias vivências, excluindo assim a necessidade de se recorrer à explicações fabulosas de cunho metafísico.
No que diz respeito ao nosso intento de usar parte de ideias de Wittgenstein para aproximá-lo de Nietzsche é apenas para indagar em que medida é possível, ou desejável, a solução da problemática contemporânea do cotidiano e das vivências, essas pensadas como categoria filosófica que permite a compreensão do homem sem que aja uma fundamentação ontológica por detrás das palavras ou uma essência oculta percebida pelos dois autores dentro da tradição filosófica ocidental. Essa aproximação entre Nietzsche e Wittgenstein, a partir da linguagem se dá de forma abundante, considerando a linguagem bem como tudo que ela envolve, como por exemplo, a concepção de racionalidade, que coloca o sujeito como algo desprendido daquilo que é o seu heimat, isto é, do seu lar, da sua casa, das coisas mais próximas do homem.
A tentativa de uma aproximação entre as duas concepções de Linguagem de Wittgenstein e Nietzsche se constrói a partir de um intento de compreender a filosofia wittgensteiniana no contexto filosófico contemporâneo onde o pensamento nietzschiano se configura como um dos mais importantes. A abordagem circunscreve-se principalmente a partir das Investigações Filosóficas (Philosophische Utersuchugen).
Apesar de suas poucas publicações, Wittgenstein é, sem dúvida, umas das figuras mais notáveis do século XX, e sua preocupação fundamental sempre foi a Linguagem. No Tractatus4 (obra escrita durante a Primeira Guerra Mundial) tem a intenção fundamental de “estabelecer, com clareza, as fronteiras entre o que racionalmente pode ser dito e o disparate que pode ser evitado”.5 Com o passar dos anos, na obra considerada o escrito da sua maturidade, As Investigações Filosóficas, Wittgenstein desenvolve uma concepção de linguagem completamente oposta ao Tractatus e que, de certo modo, também contraria as concepções tradicionais da linguagem. A nova concepção, a filosofia da linguagem ordinária, é totalmente esvaziada do intento metafísico: a linguagem deve ser uma estrutura isomórfica do real.
Se no Tractatus a pergunta fundamental estava centrada naquilo que é a linguagem e qual era a sua essência, Nas investigações, a pergunta fundamental esta em como se engendra o seu funcionamento. Em outros termos: devemos concebê-la sob o viés da práxis. A partir disso é que podemos perguntar como Wittgenstein: “quando perguntamos o que é a linguagem somos como que enfeitiçados”.6 E estamos supondo que existe uma “essência oculta”.7 Mas por meio da mudança de direção, isto é, a valorização da possibilidade de diversidade do uso das palavras presentes no cotidiano, abandona-se a tese essencialista e representacionista e adota-se uma postura pragmática. Em outros termos: não existe a essência da qual a representação é um privilégio, daquilo que seria “a” linguagem, mas as linguagens. Como consequência disso Wittgenstein supõe que existem diversas possibilidades, diversos usos por ele nomeados de Jogos de linguagem.8 Em certo modo, como não existe uma essência reveladora daquilo que é a linguagem, também os jogos de linguagem não podem ser constituídos a partir de uma fórmula essencial.9 O que eles possuem, são as chamadas, semelhanças de família: “O resultado desta investigação é o seguinte: vemos uma rede complicada de parecenças que se cruzam e se sobrepõem umas às outras. Parecenças de conjunto e de pormenor”.10 Isto é, características que aparecem num jogo de linguagem e em outros não aparecem. Por fim esses jogos que não possuem uma essência última estão erigidos sobre as práticas sociais, em formas de vida. Em outras palavras, os jogos de linguagem se constituem a partir do uso, de práticas sociais no cotidiano, à medida que estas mudam, também mudam os jogos de linguagem.
Uma vez conhecida nossa proposta de fazer alusão a alguns temas presentes nas Investigações Filosóficas, podemos perguntar: que tipo de conhecimento é esse que adquirimos a partir do entendimento do cotidiano? O que poderia ser dito sobre o cotidiano como categoria filosófica? Segundo Wittgenstein essas questões podem ser respondidas a partir do “ver o que é comum”.11 Se tomarmos a noção de semelhanças de família em seu caráter fundamental como equivalente às questões a serem respondidas, e às noções de fato que nos levam a perguntá-las, como a noção de campo de atuação das palavras comuns, isto é, a noção de uso, teremos o seguinte resultado: questões filosóficas consistem na elucidação das interconexões entre as palavras as quais podem ser enunciadas pelo uso em um determinado contexto.
Resta-nos conscientizar que essa prática é acoplada por regras e elas são determinantes para saber se o uso está ou não correto. O conjunto de regras é determinado por Wittgenstein como constituintes de uma gramática. Uma gramática que não tem a função de dirigir, apenas o uso de determinadas proposições, mas a que se dá a constituição das mesmas. De certa maneira, as regras que regulam os jogos de linguagem estão em toda a parte, nas ações sociais, num compartilhamento linguístico e extralinguístico, em outras palavras: a linguagem emerge do cotidiano, isto e, no entendimento ela é parte de uma forma de vida.
Com relação à metafísica extremamente importante para o Tractatus logico Philosophicus, agora é como que implodida pelas Investigações, que, por meio da pragmática, isto é, a linguagem como algo engendrado pelo cotidiano. Com essa base de tratamento da linguagem, não significa um repúdio total à metafísica, mas uma tentativa de ignorá-la: “aquilo que nos é oculto, não nos interessa”.12 Fundamentar ou não a metafísica não está na prioridade da filosofia de Wittgenstein, mas sobretudo a concepção do sujeito e sua possibilidade de crença, bem como os objetos legitimados nesta crença, são frutos de uma prática social, onde o cotidiano se torna categoria filosófica e possibilidade de situar o homem nos diversos contextos em que este está inserido.
A partir das obras Humano, demasiado humano, junto com Aurora e os quatro primeiros livros de A Gaia Ciência, percebemos uma tentativa de rompimento com a metafísica, apresentada, genericamente, sob o dístico: idealismos (numa referência às ideias platônicas, que são o exemplo recorrente e supremo de um modo metafísico de filosofar). Nesses textos, Nietzsche contrapõe à metafísica aquilo que ele chama de ciência e que, de resto, está ligada a um método chamado já na primeira página de Humano, demasiado humano de “filosofia histórica” (HH, 1)13 e que inclui uma análise a partir da história, fisiologia e da psicologia e que pode ser considerada também uma “filosofia científica” (HH, 131), utilizada para o desmoronamento dos ideais metafísicos.
Sendo assim, para formular a sua crítica à metafísica, Nietzsche faz uso do chamado “método científico” (HH, 635), que em Humano, demasiado humano é apresentado como um procedimento histórico com o qual pretende mostrar as raízes humanas dos fenômenos metafísicos presentes na filosofia, na arte e na religião. Percebemos que o procedimento científico de Nietzsche é a base para a constituição da noção de experimentalismo14 e mesmo de vida na qual encontraremos os pontos cruciais de sua reflexão. Por este procedimento poderemos compreender não somente a história, mas o que está por trás de tais conceitos que foram de certa forma “mumificados” numa visão estática na qual se ocultava a realidade como devir.
Por isso, para Nietzsche o modo metafísico de filosofar se apoia na crença primeira na essência identitária de cada coisa presente no mundo, “sempre igual e imutável, em suma, como uma substância” (HH, 18), esquecendo que essa mesma crença (tida como uma lei originária) também veio a ser, ou seja, tem história, nasceu no âmago das necessidades e impulsos humanos. Assim não houve um surgimento misterioso ou distante das coisas que são próximas, ou seja, humanas, dando a entender que tudo o que ocorre é resultado de uma ação livre – e não, justamente, causado por algo. Nasce, portanto, o mundo incondicionado, um dos focos centrais da filosofia metafísica, tida, por Nietzsche, como um “erro original de todo ser orgânico” (HH, 18). Note-se que, de um lado, o autor assinala a “origem” orgânica da metafísica; de outro, que ela incorreu num erro grave, a tal ponto que poderíamos “designá-la como a ciência que trata dos erros fundamentais do homem, como se fossem verdades fundamentais”. É justamente a ciência – ou o método científico – que levará Nietzsche a essa afirmação.
Para Nietzsche a forma de ver o homem como uma verdade eterna não passa de um defeito hereditário dos filósofos, cuja base está na sua “falta de sentido histórico” (HH, 2), já que mesmo este homem precisa ser pensado a partir do decurso experimental histórico-fisiopsicológico. Estes tomaram o homem de forma fixa, se olvidando que ele é fruto de um processo histórico complexo que engloba a ação da religião, ciência, arte e etc. Esse esquecimento de que as coisas tem história fez com que fosse inventado o ser perfeito e eterno, nas suas variadas formas de apresentação metafísica. Em relação a este esquecimento podemos ressaltar que:
Todo esse mundo que realmente nos importa, no qual estão enraizados nossas necessidades, nossos desejos, nossas alegrias, nossas esperanças, nossas cores, nossas linhas, nossas fantasias, nossas orações e nossas maldições – todo esse mundo foi criado por nós homens, e nos esquecemos disso, de modo que posteriormente inventamos um criador próprio para tudo. Assim como a linguagem é o poema originário de um povo, o mundo inteiro, sentido intuitivamente, é a poesia originária da humanidade, e já os animais começaram a compô-la. Isso nós herdamos de uma só vez, como se fosse a própria realidade (...). (KSA 9, 14 [8], de 1881, p. 624).
Por isso dizer que essa herança (crença) de uma realidade superior deve ser desmistificada e retirada do patamar a partir do qual era tomada como verdade, para lançá-la na via de tudo aquilo que pode ser considerado como uma ilusão. Assim, aquilo que se entende como ciência em Nietzsche é na verdade o que ele vive em sua filosofia a partir de um experimento, ou seja, o importante não se baseia no resultado, mas no fazer-se um homem de ciência. O método científico de Nietzsche, entretanto, faz ver que “tudo veio a ser; não existem fatos eternos: assim como não existem verdades absolutas” (HH, 2). O que nos leva a perceber que os idealismos criados pela filosofia (metafísica), pela religião (cristã) e pelas artes (românticas) apenas distanciam o homem daquilo que Nietzsche compreende como vida, afastando o homem da experimentação de si mesmo, e que deve ser entendida como o conteúdo primordial da filosofia, esta mesma reconhecida como uma “doutrina das coisas mais próximas” (KSA 9, 11 [211], de 1881, p. 525), tidas como mais importantes (AS, 5). No fim, o que Nietzsche observa é que o “defeito de quase todas as filosofias é a falta de conhecimento do humano, uma análise psicológica inexata” (KSA 8, 22 [107], de 1877, p. 399). O homem é tido assim como um conceito que pode ser compreendido sem levar em conta sua vida, história, sua origem. Ele é avaliado de forma errada, tanto histórica quanto psicologicamente, sendo pensado por um caminho que não faz parte do mundo verdadeiro humano, mas de algo distante, metafísico.
Para encontrar uma resposta que combata essa análise psicológica inexata é que Nietzsche utiliza o percurso experimental, pois ele deseja devolver o homem à sua própria natureza. “Minha tarefa: a desumanização da natureza e depois a naturalização do homem depois de ele ter adquirido o puro conceito de ‘natureza’” (KSA 9, 11 [211], de 1881, p. 525). O que se pretende é retirar o homem do ambiente ideal pelo qual ele foi levado pela filosofia, religião e arte metafísica e devolver-lhe seu caráter “demasiado humano” que foi desprezado e deixado de lado, aquilo que é mais próximo de sua existência terrestre e, assim, mais humano (AS, 05) em contrapartida a toda afirmação de sua “procedência divina” (A, 9). Como escopo, Nietzsche pretende conduzir o homem à afirmação de si, enquanto um ser que está num constante vir a ser, negando os idealismos que o prendem a uma essência fixa e imutável.
Para que o homem possa por este decurso experimental viver de forma natural desprendido das essências e ideais é preciso se lançar na vida e retirar dela o que ela fornece com mais vitalidade, que é simplesmente a própria experiência de estar no mundo. Esta vida desprendida de conceitos idealistas é repleta de perspectivas “indesejadas” ou vistas como más, principalmente pela via religiosa, mas que em Nietzsche perceberemos que elas não somente fazem parte da vida, mas nos ajudam a crescer. Estas perspectivas indesejadas podem ser vistas como a dor, o sofrimento, a solidão, o conflito, a guerra, estados estes que, por intensificarem as energias vitais, podem ser transformados em afirmação da vida e não caminhos para uma fuga em busca de consolos metafísicos. Como a vida deve ser vivida, Nietzsche passa a requisitar, mormente no segundo período de sua produção, as vivências e experimentações de cada “tipo” de vida como forma de aprofundamento em si mesmo e na natureza (HH, 627) através dos conflitos de interesses que marcam essas diferentes “formas de vida”. E é pela experiência de viver que o homem vai retirando a força de si mesmo e se colocando sempre a prova numa perspectiva de que não há uma regra para a vida que não deixá-la tomar seu molde que se diferencia de cada ser vivente, pois cada um estabelece sua vivência de acordo com suas vontades e determinações. Este processo paulatinamente leva o homem a ser ao longo de sua história, liberto de toda linguagem metafísica, senhor de si mesmo e artista de si, fugindo não para um mundo distante da vida, mas fugindo de um mundo que aprisiona e esconde o que a vida quer revelar.
Prof. Ms. Maurício Silva
Alves
Mestre em Filosofia pela
PUC-PR
Professor Tutor na
Universidade Positivo
Prof. Ms.Tiago Eurico de
Lacerda
Doutorando em Filosofia
pela PUC-PR
Professor da Rede Sagrado
de Educação e SEED-PR
Fecha de Recepción: 16 de diciembre
Fecha de Aprobación: 30
de diciembre
